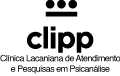Daniela de Camargo Barros Affonso(EBP/AMP/CLIPP)
Diante dos desfiladeiros por que passa a democracia nos dias atuais, em que se observa uma espécie de “bolsonarização” da sociedade, poder-se-ia enveredar, talvez precipitadamente, pela conclusão de que se está diante da ameaça do retorno a velhas formas do autoritarismo, numa tentativa de restaurar antigos valores corroídos pela precarização da autoridade paterna. Assim, figuras emblemáticas, encarnadas em juízes justiceiros, promotores com superpoderes, políticos incitadores do ódio à diferença, vicejam no cenário social.
Se de fato há, por um lado, um caldo de cultura onde o fermento que faz crescer a massa do fascismo é um ingrediente, por outro parece haver um limite a este crescimento. É certo, também, que tais figuras, ávidas por ocupar o vazio deixado pelo pai, o fazem pela via imaginária, como caricaturas do pai imaginário, tal qual Lacan o situa no segundo tempo do Édipo: são os garantidores da ordem universal nos seus elementos reais mais densos e mais brutais [1]. Tem-se a impressão de que não passam de simulacros capengas da velha autoridade, vacilando entre a selvageria e o derrisório.
A questão que me propus trabalhar neste cartel – “A psicanálise nos tempos das novas formas de autoritarismo” – origina-se da ideia de que as formas conhecidas do autoritarismo se tornaram insuficientes para explicar o evidente enfraquecimento da democracia a que assistimos. Para Christian Laval e Pierre Dardot, em A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal [2], estamos num processo de des-democratização, espécie de retirada progressiva da democracia. Em conferência realizada em São Paulo, em 2016, oito anos após a publicação do livro na França, na ocasião do lançamento da edição brasileira, Christian Laval vai ainda mais longe e fala em um regime pós-democracia. O paradoxo estaria em que cada vez mais há países formalmente democráticos, onde os rituais da democracia acontecem normalmente, ao mesmo tempo em que há uma desconfiança generalizada entre governantes e governados, constituindo verdadeiro abismo entre eles. Para os autores, se a democracia liberal estava longe de ser perfeita, ainda havia disparidade entre a expressão da vontade popular e a lógica econômica da acumulação do capital, permitindo um jogo entre elas. O que se produz na atualidade, sob o chamado neoliberalismo, é a liquidação deste jogo, jogo que permitia ações limitantes dos efeitos negativos do capitalismo.
Parte daí o interesse da psicanálise neste debate, no qual introduzo algumas indagações. Pensar que a psicanálise é exclusivamente uma experiência do um a um, alheia ao mal-estar que prevalece no social, é um erro, lembra Jacques-Alain Miller, na Conferência de Madri [3], onde destaca, ainda, que a própria existência da psicanálise vincula-se à democracia, único regime verdadeiramente garantidor da liberdade de expressão.
O neoliberalismo não se reduz a uma política econômica, não se identifica a uma doutrina, tampouco é um retorno ao velho liberalismo do século XVIII, mas é uma racionalidade global que incide em nossa forma de existência, transformando a subjetividade. E se, com Lacan, acreditarmos que “deve renunciar à prática da psicanálise todo analista que não conseguir alcançar em seu horizonte a subjetividade de sua época” [4], mantra ultimamente repetido à exaustão, é imperativo pensar as formas assumidas por esta neossubjetividade. Cabe aqui ressalvar, conforme faz Jorge Alemán [5], que o termo subjetividade não é sinônimo de sujeito:
“(…) é necessário distinguir a subjetividade historicamente produzida pelos dispositivos de poder, lugar de onde a política advém, e o surgimento da existência sexuada, falante e mortal, que por estrutura não pode ser produto de nada” – eis aí o sujeito.
Sem tal distinção o debate seria inócuo, uma vez que a psicanálise estaria fadada ao desaparecimento. O conceito de sujeito do inconsciente é a chave, a meu ver, que abre a possibilidade de localizar a psicanálise como instrumento para pensar os impasses da civilização, já que há algo da estrutura do sujeito que é irredutível, impossível de ser capturado por qualquer representação.
Se, para Laval e Dardot, o neoliberalismo é um regime que liquida o conflito entre a lógica do capital e a vontade popular, ou – talvez seja possível daí inferir – entre as exigências da pulsão e as da civilização, em termos freudianos, esta nova gestão ambicionaria superar a contradição entre os valores hedonistas do consumo e os valores ascéticos do trabalho. A empresa passa a ser um modelo geral a ser imitado e uma atitude a ser valorizada. Trata-se de uma “maneira de ser”, em que toda a atividade do indivíduo é concebida como um processo de valorização do eu a ser transposto para todos os âmbitos da existência: aprendizagem, casamento, relacionamentos, educação dos filhos. A ética neoliberal do eu não se restringe aos limites da empresa – ser bem-sucedido na carreira confunde-se com ser bem-sucedido na vida.
Sai de cena a “ética da abnegação” – não é mais virtude a obediência às ordens de um superior – e entra o “sujeito ativo”, que busca a “autorrealização”: temos que nos conhecer melhor, nos amar, nos valorizar, para sermos bem-sucedidos. Daí a ênfase na palavra que escutamos com tanta frequência em nossos consultórios: “autoestima”. Quantos pacientes não atribuem seu sofrimento à “baixa autoestima”? O modelo em questão é o da superação de limites, visando à máxima eficiência num regime de concorrência em todos os níveis, que faz parecer – e aí está o pulo do gato – que o próprio indivíduo se favorece com isso, e não os grandes organismos econômicos internacionais, verdadeiro bloco oligárquico que exerce inegável função política na atualidade.
Este sujeito concebido para sua máxima realização requer um discurso gerencial que implica múltiplas técnicas, cujo objetivo é fazer eclodir o homem-empresa: são as “asceses do desempenho”, coaching, programação neurolinguística, análise transacional, saberes psicológicos com modos de argumentação empírica e racional. A fonte de eficácia deve estar no próprio indivíduo e não numa autoridade externa. A motivação mais profunda deve ser buscada num trabalho intrapsíquico. Ao chefe não cabe mais impor, mas vigiar, fortalecer, apoiar a motivação. Para Laval e Dardot, trata-se de identificar o desempenho ao gozo, processo baseado no princípio do “excesso” e da “autossuperação”. O indivíduo é confrontado com um verdadeiro universo da disfunção sempre que se vê incapaz de se “superar” e de se “autorrealizar” nessas condições. Mais uma vez, a tecnologia entra para resgatar o homem-empresa, agora com a dopagem generalizada, com a qual também nos deparamos diuturnamente em nossos consultórios. As novas formas de autoritarismo estariam, assim, bem delineadas.
Os caminhos pelos quais a ciência se aliou hoje a esta tecnologia de criação e manutenção do homem-empresa, e como a psicanálise se posiciona neste contexto, é o que interessa neste trabalho. Miller[6] retrata como a psicologia decidiu adotar o discurso da ciência – um simulacro de seu discurso – transformando-se, nos anos 60, em cognitivista. Passou da observação dos comportamentos à observação dos neurônios, através de sua ferramenta essencial, a ressonância magnética. O objetivo passou a ser mensurar a subjetividade. A imagem por ressonância magnética permite converter em imagens a atividade neuronal. Somos dotados hoje de um imaginário poderoso do simbólico, em que o significante mestre é “neuro”. O real se tornou neuro-real, o qual nos dominará no porvir, aposta Miller. Segmentos como a neuroeconomia e o neuromarketing são exemplos de como o significante neuro ascende a um posicionamento privilegiado na cultura, direcionado a moldar o homem-empresa.
A mistura explosiva do discurso da ciência e do capitalismo rompeu os fundamentos mais profundos da tradição, indica Miller na apresentação do tema do IX Congresso da AMP, “Um real para o século XXI” [7]. É sob a forma de cientificismo e do comércio aberto por suas tecnologias que a ciência pode fazer laço com o século XXI, complementa Judith Miller[8].
Há toda uma linha da neurociência que, ao invés de contestar a psicanálise, tenta provar, pelo método científico, as teses psicanalíticas, sob o slogan “Freud está de volta!”. Mark Solms, criador da “neuropsicanálise”, talvez seja o principal expoente dessa tentativa de localizar os conceitos freudianos no sistema nervoso central. Como entender este fenômeno diante das questões ora levantadas a respeito da tecnologia desenvolvida para a constituição e manutenção do neossujeito? Para Miquel Bassols[9] trata-se de certa “deriva” da ciência atual, esta extensão dos pressupostos da ciência a todo o âmbito do humano, ideologia reducionista encontrada nos campos da genética e da neurociência. Chama este reducionismo, a partir da psicanálise, de “fantasia da época”. Lembra que a primeira teoria neurológica delirante foi a expressa no Projeto para uma psicologia científica, abandonada por Freud ao se dar conta de que era um delírio supor que a linguagem e a representação da linguagem estariam inscritas nas redes neuronais.
É preciso, alerta Bassols, diferenciar duas correntes nas neurociências: aquela que pensa poder localizar as funções subjetivas em alguma parte do cérebro e outra – com a qual a psicanálise pode dialogar – que está descobrindo a impossibilidade de efetuar tal localização. Haveria um “real” de certa parte da ciência que crê na existência de um saber já inscrito no real genético e neuronal, e outro real, de outra parte da ciência, cuja ideia se aproxima àquela da psicanálise.
O conceito de sujeito do inconsciente é o que permite à psicanálise se inserir no século XXI de forma “êxtima” ao processo de neossubjetivação, ao mesmo tempo produto e produtor do neoliberalismo. Se o discurso psi enveredou para a quantificação e mensuração da subjetividade, a psicanálise sabe que o sujeito não é categorizável. Ao contrário do discurso da avaliação e da quantificação, a promessa da psicanálise, assevera Miller [10], é “você não será comparado”. Se o discurso de quantificação se encarna no mercado, onde tudo tem um preço, um valor numa escala de valores estabelecidos, a psicanálise é uma “prática sem valor”, lembra Miller, com Lacan, escapando à escala de valores e ao discurso da quantificação.
Se certo cientificismo negligencia a incidência da linguagem sobre o falasser, cabe à psicanálise não tergiversar quanto a isso. Advertidos de que as irrupções do real não podem ser reabsorvidas por nenhuma construção discursiva, os psicanalistas podem direcionar sua escuta mais além dos enunciados do homem-empresa. “Ali onde o indivíduo neoliberal do gozo autista é, o sujeito excêntrico do inconsciente deve advir”, formula Jorge Alemán[11].
A psicanálise se vê diante do desafio de não se deixar engolir pelo cientificismo reducionista do significante “neuro”, ainda que a própria ciência tenha associado os dois significantes, neuro e psicanálise. Contudo, não será ignorando a tendência globalizante de tal cientificismo, esta “fantasia da época”, que logrará fazê-lo. Ao contrário, parece-me, cabe estabelecer um debate vivo com o campo científico, na busca permanente, ainda que sem garantias, de desnaturalizar a subjetividade atual, apontando para seu caráter contingente.
*Cartel: “A posição da psicanálise diante da política na atualidade” (Apresentado na Jornada de Cartéis – EBPSP, 2018).