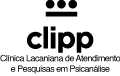Maria Bernadette Soares de Sant’Ana Pitteri (CLIPP/EBP/AMP)
São os acasos que nos fazem ir a torto e a direito, e dos quais fazemos nosso destino, pois somos nós que o traçamos como tal. Fazemos assim nosso destino porque falamos (LACAN, 1985 [1975-76], p.158).
Observando a semelhança entre produções sociais e neuroses, Freud marca a diferença no fato de serem as neuroses “formações associais”, enquanto arte, religião e filosofia promovem laço social.
As neuroses mostram, por um lado, notáveis e profundas concordâncias com as grandes produções sociais que são a arte, a religião e a filosofia, e, por outro lado, aparecem como deformações delas. Pode-se arriscar a afirmação de que uma histeria é uma caricatura de uma obra de arte, uma neurose obsessiva, a caricatura de uma religião, e um delírio paranoico, de um sistema filosófico (FREUD, 2012 [1912-1914], p.119-120).
Para trabalhar a concordância que Freud aponta entre delírio paranoico e sistema filosófico, enfocamos as Meditações de René Descartes (1979) e as Memórias de um Doente dos Nervos de Daniel Paul Schreber (1995). O primeiro, filósofo, obra considerada ponto de partida da ciência moderna[1]; o segundo, paranoico de acordo com a análise de seu escrito feita por Freud em Notas Psicanalíticas sobre um Caso de Paranoia (2010 [1911-1913]) e Lacan em o Seminário 3, As Psicoses (1985 [1955-1956]). Além disso, vamos recorrer ao Seminário 23: o Sinthoma (1985 [1975-76]), no qual Lacan aponta, para além das estruturas clínicas, possíveis soluções borromeanas encontradas pelo sujeito.
Os escritos de Descartes e de Schreber trazem semelhanças, notadamente nas questões que envolvem Deus, dúvida, certeza, pontos estes que também escancaram as diferenças entre ambos.
Com a condenação de Galileu pela Santa Inquisição em 1633, Descartes recua na divulgação de suas obras; no entanto, em 1641, resolve publicar as Meditações dedicando-a “aos Senhores Deão e Doutores da Sagrada Faculdade de Teologia de Paris” (DESCARTES, 1979), pedindo a proteção dos mesmos[2]. Colocando a necessidade de publicar sua obra, argumenta que a descoberta que nela apresenta foi diferida “por tão longo tempo, que doravante acreditaria cometer uma falta se empregasse ainda em deliberar, o tempo que me resta para agir” (p.85).
Schreber conjetura sobre objeções à publicação de seu escrito, mas acredita que, mesmo devendo “consideração por algumas pessoas que ainda vivem”, torna-se
valioso para a ciência e para o conhecimento de verdades religiosas possibilitar, ainda durante a minha vida, quaisquer observações da parte de profissionais sobre meu corpo e meu destino pessoal (SCHREBER, 1995, p.23).
Ambos falam da necessidade, do dever, na divulgação de suas ideias, dado o valor das mesmas: Descartes cometeria uma falta com o mundo diante de sua descoberta; Schreber, preocupa-se em colocar sua obra e seu corpo à disposição da ciência para atestar a verdade do vivido e por ele relatado.
Descartes, por sua obra, é considerado fundador do racionalismo moderno e Lacan no Seminário 11: Os Quatro Conceitos Fundamentais da Psicanálise (2008 [1963-1964), afirma ter sido o pensamento cartesiano essencial para o surgimento da psicanálise.
Face à sua certeza, há o sujeito, (…) que está aí esperando desde Descartes. Ouso enunciar, como uma verdade, que o campo freudiano não seria possível senão certo tempo depois da emergência do sujeito cartesiano, por isso que a ciência moderna só começa depois que Descartes deu seu passo inaugural (LAAN, 2008 [1963-1964, p.53).
Schreber, o mais famoso paranoico, que Freud jamais conheceu, “…redigiu ele mesmo sua história clínica e a levou ao conhecimento público de forma impressa” (2010 [1911-1913], p.14); no prólogo de sua obra, afirma haver conseguido ganho de causa no processo de interdição, com o reconhecimento de sua capacidade legal para o trabalho, além de lhe haver sido restituída a liberdade em relação à disposição de seus bens. Ele ganhou o processo que moveu em prol da recuperação de sua capacidade civil, mesmo afirmando que os “milagres e falas das vozes continuam como antes” (2010 [1911-1913], p.266).
Descartes utiliza a dúvida metódica para alcançar alguma certeza; Schreber escreve suas Memórias para provar ao mundo sua verdade para além de suas certezas, mesmo tropeçando em algumas dúvidas. Dúvida e certeza, qual a diferença entre ambos?
Para Descartes
A meditação que fiz ontem encheu-me o espírito de tantas dúvidas, que doravante não está mais em meu alcance esquecê-las. E, no entanto, não vejo de que maneira poderia resolvê-las” (DESCARTES, 1979, p.91).
Schreber afirma
Não posso contar de antemão com um conhecimento completo, uma vez que se trata em parte de coisas que de modo algum se deixam exprimir em linguagem humana, por ultrapassarem a capacidade de entendimento do homem. Nem mesmo posso afirmar que tudo para mim seja certeza inabalável; muitas coisas permanecem também para mim como conjectura e verossimilhança (SCHREBER, 1995, p.29).
Não apenas a certeza, mas a dúvida; em Descartes a dúvida é o princípio de um método que visa afastar o erro e produzir alguma certeza: “… o menor motivo de dúvida que eu nelas (antigas opiniões) encontrar bastará para me levar a rejeitar todas” (DESCARTES, 1979, p.86).
Em Schreber a dúvida é posterior à certeza, refere-se ao que ultrapassa a capacidade de entendimento humano, embora em momento algum ele duvide do essencial que expõe. Não, como diria Lacan, que o louco creia na realidade de sua alucinação, mas
A realidade não é o que está em causa. (…) Mesmo quando ele se exprime no sentido de dizer que o que sente não é da ordem da realidade, isso não atinge sua certeza, que lhe concerne. Essa certeza é radical. (…) isso significa alguma coisa de inabalável para ele. […] Eis o que constitui o que se chama, com razão ou sem, fenômeno elementar, ou ainda, o fenômeno mais desenvolvido, a crença delirante (LACAN, 1985 [1955-1956], p.91).
Descartes usa a dúvida como método em busca de uma primeira certeza; Schreber duvida sem que sua certeza seja abalada; “a dúvida se apoia de saída, (…) naquilo a que a significação remete, mas que ela remete a alguma coisa, isso é para ele indubitável” (LACAN, 1985 [1955-1956], p.95).
A partir da dúvida, distinguindo a vulgar da metódica, que é engendrada a partir de uma decisão racional e não experienciada, Descartes não pretende, de início, estabelecer verdade alguma, mas livrar-se de preconceitos, buscando uma certeza que seja o ponto de partida para um novo conhecimento, uma nova ciência.
Schreber tenta recriar um mundo articulado a partir do inexplicado e inexplicável que perturbou sua existência:
…uma vez, de manhã, ainda deitado na cama (não sei se meio adormecido ou já desperto), tive uma sensação que me perturbou da maneira mais estranha, quando pensei nela depois, em completo estado de vigília. Era a ideia de que deveria ser realmente bom ser uma mulher se submetendo ao coito – essa ideia era tão alheia a todo o meu modo de sentir que, permito-me afirmar, em plena consciência eu a teria rejeitado com tal indignação que de fato, depois de tudo o que vivi nesse ínterim, não posso afastar a possibilidade que ela me tenha sido inspirada por influências exteriores que estavam em jogo (SCHREBER, 1995, p.54).
Lacan, no Seminário 23, afirma que “o sintoma central, claro, é o sintoma feito da carência própria da relação sexual. Mas é preciso que essa carência tome uma forma. Ela não toma uma forma qualquer” (1985 [1975-76], p.68).
Sem recursos simbólicos para explicar o ocorrido, Schreber deduz que a ideia provém de outro lugar e a justifica, concebendo um sistema no qual ele é o correlato feminino de Deus, tornando-se o vínculo deste com os humanos e, mais, responsabilizando-se pelo surgimento de uma nova humanidade.
Descartes em sua escalada na dúvida metódica usa o argumento da Loucura rejeitando-o em seguida, ao se dar conta de que o argumento por ele usado é argumento racional, baseado na dúvida: ora, ele duvida metodicamente, mas o louco não duvida da própria loucura. Na realidade, se Descartes continuasse aprofundando o argumento da loucura, provavelmente não conseguiria chegar a uma primeira certeza.
É o momento de se perguntar com Lacan, no Seminário 23 “A partir de quando se é louco? Vale a pena colocar a questão” (1985 [1975-76], p.75). Esta questão Descartes não se fez, passando rapidamente pelo argumento da loucura e propondo uma nova ciência a partir do cogito – sujeito da certeza arrancado à dúvida metódica. O sujeito cartesiano, atual e pontual, pode esvanecer-se a cada momento em que não for pensado, racionalmente. O que é que faz com que o cogito tenha continuidade e permita recuperar o que foi destruído pela dúvida metódica? Descartes recorre a Deus: a partir do sujeito arrancado à dúvida, ele necessita da “prova ontológica”, prova da existência de Deus, explanada na terceira meditação:
Pelo nome de Deus entendo uma substância infinita, eterna, imutável, independente, onisciente, onipotente e pela qual eu próprio e todas as coisas que são (se é verdade que há coisas que existem) foram criadas e produzidas. […] quanto mais atentamente as considero, menos me persuado de que essa ideia possa tirar sua origem de mim tão somente. […] é preciso necessariamente concluir […] que Deus existe” (DESCARTES, 1979, p.107).
Descartes, ser finito, não poderia ter ideia de um ser infinito: esta ideia teria necessariamente sido colocada nele pelo infinito, isto é, Deus. Para Descartes, sair do puro cogito, do puro pensamento e reconstruir o mundo exterior destruído pela dúvida, Deus se torna logicamente necessário; é a possibilidade de continuidade do cogito pontual e de garantia mesma da existência do mundo exterior.
Freud diz que em Schreber a atitude em relação a Deus é singular e cheia de contradições; Deus para Schreber não é uma entidade simples, há uma bipartição: sob alguns aspectos Deus todo-poderoso forma uma unidade, mas ao mesmo tempo, há uma distinção “entre um Deus inferior (Arimã) e um Deus superior (Ormuz)” (2010 [1911-1913], p.32).
Diferente de Descartes, cujo Deus, no presente absoluto é garantia da verdade (“criador das verdades eternas”: 2+2=4 porque assim Deus o quer); ser infinito, eterno, imutável, independente, onisciente, onipotente – o Deus de Schreber é enganador, dividido e perseguidor.
No mundo cartesiano, mundo estruturado a partir de um Deus garantidor da verdade, o que pode ocorrer se tal garantia sucumbir, dada a evaporação, o esgarçamento da Metáfora Paterna? Ousamos dizer que ocorre o que está ocorrendo na atualidade, a que chamamos pós-modernidade: a busca desenfreada de seja lá o que for que garanta um mínimo de consistência, diante do desarvoramento deixado pela “Morte de Deus” [3].
Neste sentido, num mundo sem a garantia do pai – obturador do fato de estrutura que é a falta, o furo – temos a afirmação de Lacan de que “todo mundo é louco”, ou seja, a loucura é generalizada, o que não significa que a psicose o seja. Lacan se pergunta no Seminário 23 se Joyce teria sido louco, e completa: isso não é um privilégio (1985 [1975-76]), p.85).
O último ensino lacaniano traz a ideia radical do fora-do-sentido, da “foraclusão generalizada”, que produz efeitos em relação ao Simbólico, ao Imaginário e ao Real. O nó borromeano mostra a estrutura psíquica formada na articulação dos três registros; o uso da topologia descreve como esses três registros se entrelaçam – desenlaçando-se um deles, os dois outros de desenlaçam também – é a propriedade essencial do nó, sendo os três registros interdependentes na constituição do sujeito.
Coloca-se aqui a questão: como a topologia dos nós se articula com a dimensão estrutural; como pensar a relação possível entre a topologia dos nós e as estruturas clínicas?
Lacan, com a teoria dos nós, subverte a solução normatizadora do Nome-do-Pai; cada sujeito, a partir do real em jogo, pode vir a operar uma forma de suplência ao impossível de nomear. A suplência, o quarto nó, permite a amarração entre os três registros e evidencia uma saída singular, uma solução inventada por cada um para se haver com o impossível de enunciar.
O que prevalece é o fato de que as três rodinhas participam do imaginário como consistência, do simbólico como furo, e do real como lhes sendo ex-sistente (LACAN, 1985 [1975-76]), p.55).
Pensando em termos estruturais, há uma metáfora paterna em Descartes, enquanto que em Schreber essa metáfora se esgarça, ou melhor, inexiste. Mas para além da Metáfora Paterna, pode-se arriscar uma análise a partir das obras citadas – de Descartes e de Schreber – em direção às soluções borromeanas propostas por Lacan em seu último ensino.
Em termos borromeanos, pode-se dizer que o presidente Schreber, com seu escrito socialmente aceito e publicado, conseguiu uma estabilização que funcionou temporariamente; na estrutura psicótica, a foraclusão (Verwerfung) do nome nome-do-pai deixa o sujeito sem suporte; o escrito funcionou para Schreber por algum tempo como amarração – mas tratou-se de um nó frouxo que se desfez.
No caso de Descartes, sua obra filosófica, com a amarração do Deus que não engana, construiu um quarto nó; seu Outro trouxe a sustentação necessária para sua teoria.
Nas soluções borromeanas, considera-se a relevância das construções singulares realizadas pelos sujeitos, ainda que as mesmas se deem a partir das diferenças estruturais entre neurose, psicose e perversão.