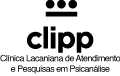João Paulo Desconci (CLIPP)
Miller em A topologia no ensino de Lacan [1] (1996) visa justificar a importância e determinar o lugar da topologia em Lacan, desde o Discurso de Roma [2] (1953/2003). Nesse texto, Lacan define a função primordial da morte como centro eferente à experiência da palavra: seu relatório apresenta “a função da fala” e “o campo da linguagem”, como “ABC… nos quais esse ensino encontra suas coordenadas, suas linhas e seu centro de referência” (LACAN, 1953/2003, p.153). Assim, desde o início de seu ensino, Lacan parte desse ponto paradoxal que confunde dentro e fora, e que liga a palavra à morte, situando na experiência da fala o topos do sujeito do inconsciente.
Para Miller (1996), Lacan ao abordar o sujeito através do matema, distinguiu o conjectural do físico, propondo o Outro como um espaço de combinatórias: condição para constituir a única substância dessa experiência des-substancializada, qual seja, o gozo. Sem a topologia e a lógica, Lacan não teria elaborado o sujeito sem substância que a experiência analítica requer. Portanto, mais do que uma metáfora, trata-se de uma estrutura que funda essa disposição espacial representada pelo toro: o furo e a extimidade do gozo – até que se formule seu status de “real” (MILLER, 1996).
“É preciso que a fala seja ouvida por alguém ali onde não podia nem sequer ser lida por ninguém – uma mensagem cujo código perdeu-se ou cujo destinatário morreu” (LACAN, 1953/2003, pg. 146). (…) “para nos encaminhar do polo da palavra para o da fala, definirei o primeiro como a confluência do material mais vazio de sentido no significante com o efeito mais real do simbólico, lugar ocupado pela senha” (pg. 158).
Com isso, Lacan remete à letra o caráter ambíguo da fala, em sua função de velar e desvelar. Se por um lado, tal partição explica a multiplicidade dos acessos à decifração, de outro, portanto
“persiste o fato de que há apenas um texto em que se pode ler, ao mesmo tempo, o que ela [a fala] diz e o que ela não diz, e de que é a esse texto que se ligam os sintomas, tão intimamente quanto um rebus se liga à frase que o representa” (1953/2003, pg. 146).
Para ele, uma psicologia pretensamente analítica foi construída com base na confusão entre as duas coisas – a multiplicidade da decifração e o texto. Diferente do instinto, o conceito de pulsão refere-se ao que Freud chama de sobredeterminação como aquilo que “separa do texto […] da causalidade no real, a ordem instituída pelo uso significante […] na medida em que ele atesta a penetração do real pelo simbólico” (LACAN, 1953/2003, pg. 146), denunciando que qualquer coisificação comporta uma confusão entre o simbólico e o real, cujo erro convém corrigir.
Miller, então, situa que “é preciso qualificar essa designação de real feita à estrutura e à topologia que a representa” (1996, p.77) e que “ela deve nos conduzir pelo caminho no qual o inconsciente não tem nada de intuitivo” (1996, p.76). Ele cita que esse esforço constante em reabsorver o patemático no matemático – que não culmina em reabsorção completa – em O Aturdito [3] (1974/2003), foi chamado por Lacan de “a conquista da psicanálise” (apud MILLER, 1996, p.76) e que, mais além de uma metáfora, a topologia é o real mesmo em jogo na experiência clínica – apagando a separação imaginária entre ambas.
Ao final dos Escritos, encontra-se um Quadro comentado das representações gráficas [4] (1966/1998, p.917) redigido por Miller, que adverte que cabe ao simbólico impedir a captura imaginária sobre a inadequação de princípio, da representação gráfica a seu objeto no espaço da intuição. Distingue que as construções: Esquema da dialética intersubjetiva – chamado Esquema L; Modelo Óptico dos Ideais da Pessoa; a Estrutura do Sujeito – esquemas R, sua variação I – ao término do processo psicótico e os esquemas da fantasia sadiana; e o Grafo do Desejo, teriam apenas papel didático e mantêm com a estrutura uma relação de analogia, exceto as “Redes de Sobredeterminação” que funcionam na ordem do significante e revelam onde a memória aparece como lei elementar da repetição.
Miller diz que “a psicanálise faz matema onde o místico encontra um objeto de fascinação” (1996, p.76), apontando que o esforço de matematização dessa experiência, efetivamente não-toda matematizável, destaca as relações em causa entre os termos que participam da experiência analítica, defendendo que, desde que se renuncia a esse esforço, restringe-se a uma prática imaginariamente autônoma e à fascinação do indizível. Finalmente, Miller (1996) defende que a topologia não pode ser tomada à parte do ensino, como disciplina independente; seria vão o esforço, ela só tem utilidade imersa ali.
*Cartel: Topologia e Clínica (Apresentado na Jornada de Carteis da EBP-SP, 2024).