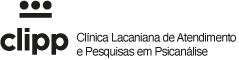Platão e Lacan: encontro da verdade na solidão
Por Maria Bernadette Soares de Sant´Ana Pitteri
(EBP/AMP)

Imagem: Instagram @yoriyas
Solidão, enquanto conceito, está mais para a filosofia (desde seus primórdios), do que para a psicanálise, embora queixas constantes não deixem de pulular nos consultórios psicanalíticos. Do que se queixa aquele que se diz solitário?
Platão, na Academia, dedicava-se a estudar o homem inserido na pólis, na cidade[1], sua moral, sua ética, seus relacionamentos sociais, questões cruciais que culminam em A República (Politeia)[2], diálogo que faz a apologia de um governo que estaria muito longe da democracia, do regime ateniense como nenhum outro depois dele, período no qual viveram Platão (*428/427 – +348/347 a.C) seu mestre Sócrates (* 469/470 – +399) e seu discípulo Aristóteles (*384 – +322) [3].
A República figura uma sociedade estratificada, com papeis claramente delimitados, onde cada cidadão (ou político como eram chamados, por viver na pólis) teria um lugar. Platão não deixa muito claro, no diálogo, se haveria fixidez de tais lugares, a não ser no caso dos guardiães treinados desde muito cedo para a defesa da polis, sem distinção de sexo e que deveriam casar-se entre si.
A tentativa de encontrar uma definição para o conceito de “justiça” dá início ao diálogo, que desenvolve um paralelo entre ser humano e polis, colocando ao lado de três faculdades da alma humana (apetitiva, irascível e racional), três classes de cidadãos (comerciantes, guerreiros – guardiães – e governantes – os filósofos), o que é colocado como essencial ao bom governo da cidade. Trata-se de uma proposta de harmonia entre as diferentes faculdades da alma e das diferentes classes propostas para a pólis. Há que se notar que indivíduo e estado devem dirigir-se aos aspectos racionais como orientadores de suas ações. Fazendo uso da argumentação dialética, Platão tenta apreender a realidade à luz de posições contraditórias, na busca da verdade.
A proposta de A República é a de uma ascese espiritual que, partindo do mundo empírico em direção ao mundo racional, permitiria a possibilidade de vislumbrar a Verdade, mas não de falar a respeito dela. Interessante que o paralelo supõe algo a mais, tanto para a pólis – que deverá alcançar a justiça – quanto para o indivíduo que, no auge da racionalidade poderá dar o salto em direção à Verdade. No lugar onde se aloja a Verdade, a dialética não tem mais serventia, não há mais linguagem, apenas contemplação.
O indivíduo que contemplar a Verdade (o que seria dado a poucos), num movimento claramente místico (de pura contemplação) é o filósofo, que deverá ser o governante da polis (rei-filósofo), mesmo que não o queira, ou melhor, exatamente por que não o quer. Este será o mais apto para elaborar as leis, não que as mesmas sejam perfeitas, visto que deverão converter-se em palavras, o que de imediato afasta da verdade pura.
Necessário fazer aqui uma distinção: ao indivíduo será permitido alcançar a verdade na solidão, mas não no isolamento[4], ele deve continuar inserido na pólis. A alegoria da Caverna, veiculada neste diálogo, será exemplo de busca e encontro da Verdade.
Não é abusivo pensar aqui em Lacan, quando em Televisão diz “digo sempre a verdade, não-toda, porque dizê-la toda é impossível, faltam palavras”.
Voltemos à solidão da Verdade: como alcançá-la, de qual ascese fazer uso? No caso da filosofia platônica há uma Verdade a ser contemplada na mais absoluta solidão, que deverá servir como ponto ideal para o governo dos cidadãos/políticos, dos habitantes da pólis.
No caso de Lacan vemos claramente a insuficiência da linguagem para dar conta da Verdade, sempre não-toda e, se quem fala, “só tem a ver com a solidão (…)”, “(…) essa solidão de ruptura de saber, não somente ela pode se escrever, mas ela é mesmo o que escreve por excelência (…)”[5].
No entanto a psicanálise se vê às voltas com a linguagem, é seu instrumento. O sujeito do inconsciente (transferencial) constitui-se ao mesmo tempo que o Outro, o que faz com que nunca esteja só. A companhia do Outro provoca incômodo no neurótico, que tenta se liberar, deixar de lado a companhia constante deste Outro alienante. Há uma “doação de sentido através da elucubração fantasmática”[6], que acompanha o sujeito em sua vida, quer dizer, a fantasia sustenta o sujeito, dando a ele a ilusão de que está só.
Há necessidade do Outro para o sujeito existir, mas este é um engodo e o sujeito é o tolo do significante, tolo da linguagem, tolo do Outro.
O Outro não existe, diz Lacan, e tal constatação só ocorre depois de uma análise conduzida até seu final, o que deixa o sujeito só, frente ao pedaço de real opaco, do sinthoma, momento de “destituição subjetiva”, de separação do Outro, ato que é sem o Outro e deixa na solidão quem o faz. Momento de entrada em jogo do Inconsciente Real, do “esp d´un laps”. Mas a partir daí se pode estabelecer um novo laço com o Outro, estando advertido de sua inexistência.
No ato de Fundação da Escola, Lacan diz estar “só, como sempre estive, diante da causa analítica”, solidão fundadora que se escreve a partir de um ato, que se faz sem o Outro e que, portanto, dessubjetiva, pura solidão.
Mas é possível pensar também na solidão insuportável do rechaço do Outro. Solidão da loucura. O louco é livre, porque não precisa do Outro. Seria louco por que vislumbra a Verdade? A Verdade de que não existe o Outro, o que o remete à absoluta liberdade?